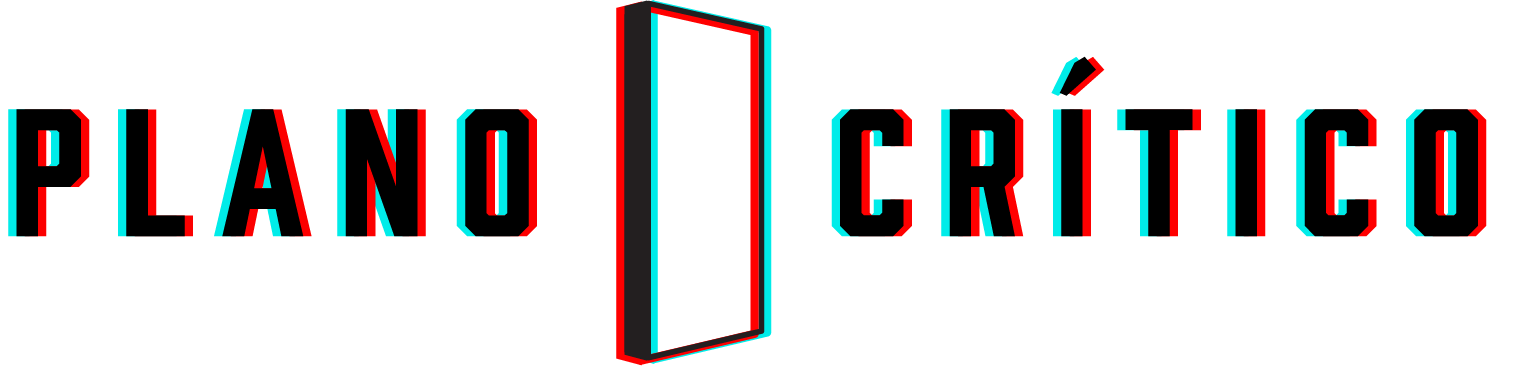A cena inicial de Vitória Amarga traduz muito bem a habilidade do diretor Edmund Goulding em contrapôr os arquétipos de suas personagens. Se por um lado Judith Traherne (Bette Davis) encarna o desajuste burguês — a boemia do auge de uma vida bem vivida —, Ann (Geraldine Fitzgerald) é a personificação da mulher resolvida, forte; mas também responsável por ser a pedra de toque da responsabilidade de avisar ou não a sua melhor amiga do tumor cerebral que assombra seus últimos meses de vida. É nesse dilema, dos últimos glamourosos momentos da vida de uma socialite mesquinha — assombrada por uma cirurgia que adia por pouco tempo a sua morte —, que Goulding desenvolverá a sua encenação.
O que realmente sustenta boa parte da trama, ao contrário do que geralmente se lê ou se ouve sobre a obra (que sempre enfoca a análise na atuação dos personagens), é um minucioso trabalho com a decupagem e o design de produção. Primeiro porque servimos de testemunha da dialética entre o encerramento de uma vida e o epicurismo por detrás da morte: a câmera passeia e enxerga à espreita, como se estivéssemos por detrás da parede espiando a tentativa ineficaz de fugir do destino. Se o filósofo grego diz não temer a morte porque, ao acontecer, deixamos de ser, a personagem de Davis será justamente aquela que mais temerá – e isso sim é visível na minuciosa atuação da atriz –; porém de modo completamente silencioso e omissivo. O entorno da personagem, repleto de atuações que asseguram uma espécie de “cortina de fumaça” na vida da protagonista, dá segurança para que a trama se desenvolva. Por outro lado, o modo como o figurino dialoga com essa tensão também é primoroso: a vida boêmia é vestida por Judy de branco; a decadência pré-morte, em uma espécie de “pré-luto”, a leva a vestir preto. Claro: quando Judy senta-se antes de operar o seu tumor e diz: “o que você me fez vestir, Doutor?”, em uma espécie de falsa esperança (haja vista que o vestido era branco), tanto o médico quanto sua melhor amiga (fumando de preocupação), vestem-se do preto do luto.
Ainda entendendo a decupagem como testemunha silenciosa, seu uso é magistralmente exemplificado na cena em que Judith, em um ápice de negação e fuga epicurista, embriagada e desesperada, canta Oh, Give Me Time for Tenderness apoiada no piano. A câmera não a glorifica; ela a observa de uma distância quase clínica, enquadrando-a não como a estrela da festa, mas como uma figura patética e isolada em meio à algazarra que ela mesma criou. O foco está no seu rosto transpirando angústia, enquanto os rostos borrados dos amigos ao fundo riem, alheios ao seu verdadeiro drama – a tal “cortina de fumaça”. Aqui, a decupagem expõe a profunda solidão na multidão. O figurino, neste momento, ainda é claro (um vestido/claro de festa), mas já está manchado pela sua performance caótica, pré-anunciando a transição para o preto que ainda a assombra. A cena no piano é o auge da fuga ineficaz, onde a tentativa de afogar o medo no ruído é desmascarada pela lente que capta apenas o silêncio ensurdecedor do seu terror interior. A genialidade de Davis está em performar a euforia boêmia com uma tensão facial e uma voz quebrada que deixam transparecer, para o espectador e para o Dr. Steele (que a observa, sério), o pânico que ela tenta, em vão, sufocar.
O problema é que essa forma narrativa quase genial não consegue esconder os excessos que, mesmo que raramente, a trama comete. Do lado de Davis, embora sua atuação seja devidamente bem calibrada, o roteiro encaminha sua personagem para diálogos completamente inverossímeis e distantes até mesmo da superficialidade de uma socialite. Não caracterizo esses diálogos como poéticos ou filosóficos justamente por serem completamente alheios à encenação mais reflexiva que propus na análise anterior. Isso é acompanhado pela péssima atuação do ex-presidente dos Estados Unidos da América Ronald Reagan, completamente desajeitada e prejudicial a uma trama que deveria ser sutil. Goulding, nesse aspecto, parece ter se colocado em um dilema entre um filme mais pesado; complexo; filosófico e um filme mais pastelão; novelesco. Há elogios para ambos os estilos, exceto, como na obra em questão, quando são confrontados pela indecisão da direção.
Um remédio bastante eficaz que Goulding utiliza para esconder essa ponta solta é a química entre Davis e Brent, muito pelo envolvimento dos dois fora do filme – Davis chegou a afirmar que “dos homens com quem não me casei, o mais querido foi George Brent“. Aqui, mais um dilema muito interessante é posto: como lidar com a paixão, a fissura tardia por uma mulher que, em breve, partirá? Como ser, inclusive, o responsável por avisá-la (a contragosto de praticamente toda a sua família, que prefere omitir ardilosamente omitir a verdade)? Assim, nas trocas de olhares entre os dois, a direção atinge o ápice de sua sofisticação: há medo de se viver em ambos os lados, alterando-se quem contará do fim de um amor ou do fim de uma vida.
De fato, se há algo que o filme acerta bastante é no desenvolvimento quase impecável de dilemas que, no contexto burguês do filme, podem facilmente ser transpostos para a realidade pós-moderna. Acredito, no entanto, que chegamos a um ponto de superficialidade interpessoal que impede que nossos amores durem 10 meses, como no filme. De qualquer forma, Vitória Amarga é uma doce lembrança de como o findar de uma vida, mesmo que sob uma vida de luxos e glamour supérfluos, pode enquadrar as mais profundas reflexões.
Vitória Amarga (Dark Victory) – EUA, 1939
Direção: Edmund Goulding
Roteiro: Casey Robinson
Elenco: Bette Davis, George Brent, Humphrey Bogart, Geraldine Fitzgerald, Ronald Reagan
Duração: 104 min.