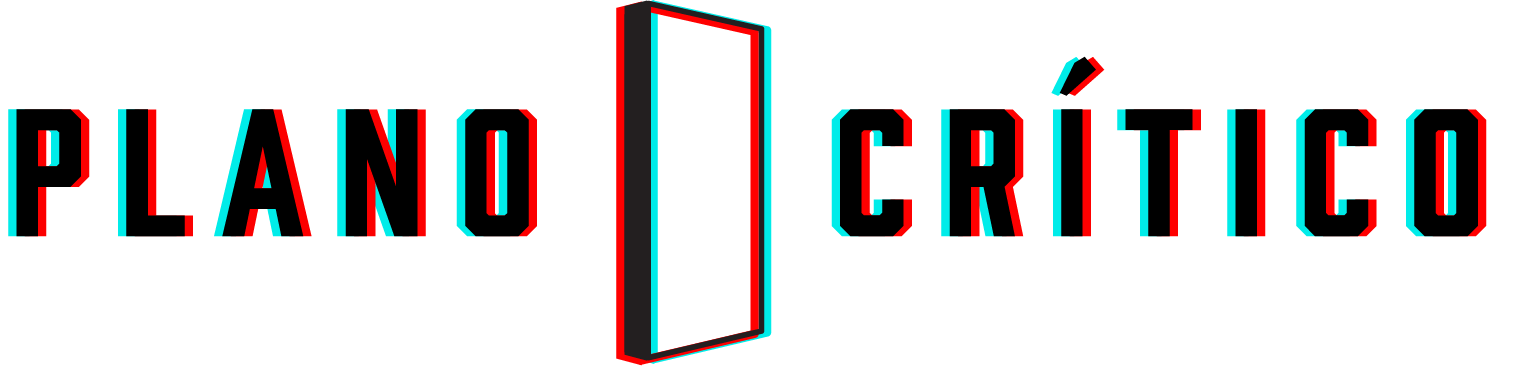A forma como Júlia Lopes de Almeida nos introduz à trama de A Falência (1901), sempre me fascinou. A autora conseguiu cercar, logo no primeiro capítulo, inúmeras situações sociais da República Oligárquica, com a cidade do Rio de Janeiro em grande movimento ligado ao “trabalho do café” e receios econômicos da década anterior, quando da crise do Encilhamento, gerada pela desastrosa política financeira de incentivo à indústria (fornecendo crédito livre e emissão de papel-moeda) do ministro Ruy Barbosa. O panorama dado pela autora pode servir até para material didático, pois adquire valor documental ao retratar a estratificação social da capital no alvorecer do século XX: portugueses recém-chegados e suas elites consolidadas; libertos em busca de dignidade; mulheres confinadas ao trabalho doméstico ou à precariedade de pequenos negócios; imigrantes italianos; parasitas sociais e magnatas entrelaçados ao poder.
Desse caldo sociopolítico é que a autora destaca o personagem que irá costurar, às vezes em segundo plano, a narrativa central de A Falência: Francisco Teodoro, o ricaço que saiu da pobreza e se tornou uma força monetária invejada em seu ciclo, personifica a ambição desmedida de uma nova classe que elege a morte como alternativa preferível à queda no ostracismo econômico. A isso, a autora entrelaça tramas passionais para desmascarar a hipocrisia de uma elite que condena a infidelidade feminina enquanto tolera o adultério masculino. Camila, mulher de Francisco Teodoro, envolve-se com o médico Gervásio — um romance conhecido por todos, mas que o marido parece ignorar (ou deliberadamente negligenciar) –, revelando não só uma moral dividida, mas também a pressão exercida sobre as mulheres num sistema que as trata como simples troféus. As filhas do casal representam as ambivalências de uma juventude que oscila entre a obediência à tradição e um discreto desejo por autonomia, como é o caso de Ruth, cuja paixão pela música se transforma em refúgio e, posteriormente, em meio de sobrevivência.
Apesar do título prenunciando desastre, a habilidade da autora está em dosar a tensão, fazendo da crise financeira o começo de uma série de colapsos morais, e isso, só no último ato do livro. Quando Francisco, encurralado pelas dívidas, decide pôr fim à própria vida, a narrativa não traz reconciliações ou recomeços, o que, confesso, me deixou impressionado. A família se desfaz como um castelo de cartas, e a escritora evita qualquer romantização redentora, mostrando uma miséria definitiva que ilustra perfeitamente um outro aspecto daquilo que vimos no capítulo de abertura. Essa decisão, além de impactante, escancara a fragilidade das estruturas sociais baseadas na especulação monetária e no orgulho classista, abordando questões históricas e econômicas que continuam relevantes até hoje.
No desenvolvimento da história, vemos a autora expor, de forma muito mais madura do que fizera em A Viúva Simões, algumas formas de violência contra as mulheres — com destaque para as exposições sobre a mãe de Camila –além da opressão racial contra os negros libertos pela Lei Áurea de 1888, ainda tratados como subalternos, espancados e forçados a trabalhos degradantes apenas em troca de comida ou ínfimos trocados que não lhes permitiam sequer manter a alimentação. A autora propõe uma reflexão que dialoga com os dilemas históricos e com as constantes crises financeiras do capital, ressaltando a persistência de desigualdades antigas em um país em formação e ainda reproduzindo hierarquias baseadas na cor e na classe; uma desigualdade que, estruturalmente, escanteia uma etnia e a vê apenas como um acessório incômodo, tendo o propósito apenas de servir aos donos do poder.
A narrativa se desloca com naturalidade entre um realismo descritivo e passagens naturalistas, fazendo-nos conhecer os passeios de bonde, o interior das habitações, a moda e a degradação dos subúrbios cariocas, onde moradias precárias e ruínas de prédios históricos abrigam uma lamentável pobreza. Contudo, é na elaboração dos personagens que Júlia realmente se destaca: Francisco Teodoro, concentrado em conseguir cada vez mais dinheiro; Camila, dividida entre o senso de dever social e o desejo; e até personagens secundários, como a órfã Sancha, uma criança negra constantemente espancada, cujo corpo expressa a violência das divisões sociais; e as tias fervorosamente católicas, mesquinhas, preconceituosas e fofoqueiras, que encarnaram a hipocrisia e a perpetuação de situações de opressão a todo tipo de gente que não consideram “dignas de conviver entre os melhores da sociedade”.
A autora rejeita as soluções fáceis e mantém os destinos trágicos, o abandono, as brigas ético-morais e os desalentos que atingem praticamente todos os personagens, em níveis diferentes. Embora passagens como digressões sobre amenidades do dia, pensamentos soltos e visitas inúteis de personagens pareçam supérfluas ante a força do conjunto, o leitor compreende que A Falência trata de maneira muito inteligente sobre o ciclo das coisas no âmbito íntimo e em sociedade, falando de economia, ética, relações familiares, especulação, política, furto, golpes, conflitos de geração e corrupção. Mais do que um reflexo do passado, o romance é um alerta de que, sem tratar os problemas das nossas relações no âmbito público e privado, continuaremos edificando sobre uma base terrivelmente instável. E o resultado sempre será as falências que pessoas, ideologias, famílias e Estados enfrentam periodicamente.
A Falência (Brasil, 1901)
Autora: Júlia Lopes de Almeida
Edição lida para esta crítica: Penguin Companhia (1ª edição – 14 março de 2019)
304 páginas