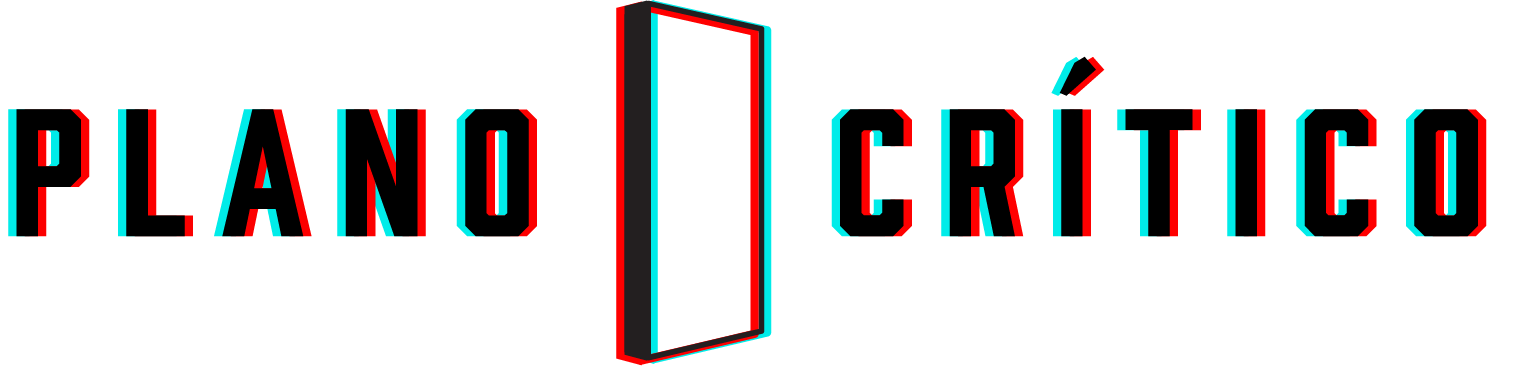Assassinato sob Custódia notabiliza-se pela sua incursão assertiva no campo espinhoso das contradições éticas e do conforto moral, principalmente ao lidar com aspectos tão complexos como a cumplicidade silenciosa da classe branca sul-africana frente à injustiça racial do Apartheid. É bem verdade que o filme lida, a partir disso, com diversas ambiguidades de ordem conceitual e de foco narrativo – principalmente no que tange à escolha de um protagonista branco e em diversos momentos em que faltou uma mão que tornasse esse protagonismo menos próximo de um white savior –, e este gesto de confronto consciente e assumido com a realidade da opressão, apesar de ser uma faca de dois gumes, constrói um filme bastante consciente. A cineasta Euzhan Palcy empreende uma arquitetura fílmica que se recusa a pactuar com a solução simplista de ignorar o papel da elite branca, preferindo mergulhar na complexidade multifacetada da transformação de consciência de um homem. É a busca pela verdade da condição humana em face da barbárie que se torna aqui a matéria-prima da sua investigação e o foco incessante de sua forma.
O filme narra a jornada de Ben du Toit, magistralmente interpretado por Donald Sutherland, um professor branco de classe média cuja vida é inicialmente marcada por uma aparente neutralidade política e um conforto moral cuidadosamente mantido à distância da realidade dos townships. A trama se desenrola quando o desaparecimento do filho de seu jardineiro africano, Gordon Ngubene, inicialmente ignorado, é seguido pelo subsequente sumiço de Gordon. Ben, impulsionado por um imperativo de consciência e pela amizade estabelecida com a família de Gordon, é forçado a abandonar a sua posição de espectador. Sua investigação o confronta com a terrível realidade da brutalidade policial, da tortura e dos assassinatos encobertos pelo sistema, disfarçados de convenientes suicídios. Este mergulho na experiência da opressão culmina com uma transformação dramática: Ben du Toit transita de um homem essencialmente apolítico para um dissidente ativo, cujo único objetivo é a denúncia da máquina estatal de terror.
Primeiramente, a partir do contexto, é fato reconhecer que a execução desta ambição notável não se processa de forma simplista – vejo na sua estrutura uma futilidade que foge ao panfletário, para manter a profundidade do drama individual –, pois a obra se retrai ao desafiar a lógica do seu próprio financiamento, uma vez que a escolha de um protagonista branco, embora comum para angariar apoio financeiro em Hollywood, dilui a essência do problema. Todavia, saliento que a abordagem da experiência negra nos townships e dos mecanismos de opressão do Apartheid se constroem de forma muito satisfatória, demonstrando um controle autoral por parte da diretora Euzhan Palcy, a primeira mulher negra a dirigir um filme de estúdio de Hollywood, que confere ao filme uma sustentação estética e argumentativa de rara solidez. Palcy consegue, com uma inteligência formal acurada, trabalhar aspectos muito complicados que transcendem a mera transposição de um enredo de suspense para a tela. Veja: ela estabelece um campo de batalha ético e político em que se digladiam o privilégio branco e a realidade da barbárie sistêmica, um espaço onde a ação e a inação se tornam instrumentos de debate e não meros veículos de entretenimento. O confronto com o sistema, por parte de Ben, traduz-se em ostracização social: ele perde o emprego e enfrenta a rejeição da própria comunidade e família, incluindo sua esposa, que o acusa de ser um amante de kaffir, sofrendo ameaças, com a notável exceção de seu filho mais novo.
Deste conflito emerge a complexidade da questão da representação da dor. Não se trata apenas de representar a violência estatal, mas de entender a profundidade da experiência negra sob o Apartheid e a responsabilidade ética do indivíduo que testemunha a injustiça. O filme, sob a ótica crítica de Euzhan Palcy, clama por uma tomada de posição, mesmo que ela venha com um custo pessoal altíssimo. A narrativa reconhece esta irreversibilidade da consciência ao abraçar a tensão permanente entre o que é fácil e o que é certo. Esta dicotomia ética e existencial constitui o cerne da narrativa e da sua ressonância emotiva.
A sustentação formal desta crítica reside na maneira como a diretora Euzhan Palcy utiliza de uma sensibilidade emocional e no trato da violência. O filme é concluído como uma obra poderosa, emotiva e sutil, que não é apenas uma história de enredo, mas sim um exame doloroso da mudança de consciência de um homem que, uma vez confrontado com o que é certo, não consegue mais voltar atrás em sua busca por justiça. Este tratamento da narrativa não é uma fuga à gravidade do tema – mesmo que, a meu ver, sob uma série de abordagens errôneas, seja no protagonismo seja na solução do clímax da trama –, mas sim no seu alicerce metodológico. Permite a construção de um filme realmente sustentável, no sentido de ser uma obra que se sustenta a si própria através da coerência entre a dor da transformação e a urgência da denúncia, resistindo à tentação da concessão fácil ou do didatismo simplório.
Ao conciliar justamente essa ideia mais íntima da mudança de um indivíduo com a necessidade premente de abordar temas de profundo relevo social e histórico, tem seus méritos. Apesar de uma construção por vezes duvidosa, é na intersecção do rigor analítico sobre o colapso moral e a ousadia de focar a experiência branca (mesmo que a vitimizando) que Assassinato sob Custódia se afirma como um exemplar notável do cinema político que se faz exame de consciência e denúncia simultaneamente. É uma obra que não teme o seu próprio dilema temático, sabendo que a única forma de o ultrapassar é atravessá-lo com a profundidade da emoção e a acuidade do pensamento.
Assassinato sob Custódia (A Dry White Season) – Estados Unidos, 1989
Direção: Euzhan Palcy
Roteiro: Colin Welland, Euzhan Palcy (Baseado no livro de André Brink)
Elenco: Donald Sutherland, Janet Suzman, Zakes Mokae, Jürgen Prochnow, Susan Sarandon, Marlon Brando
Duração: 107 min.