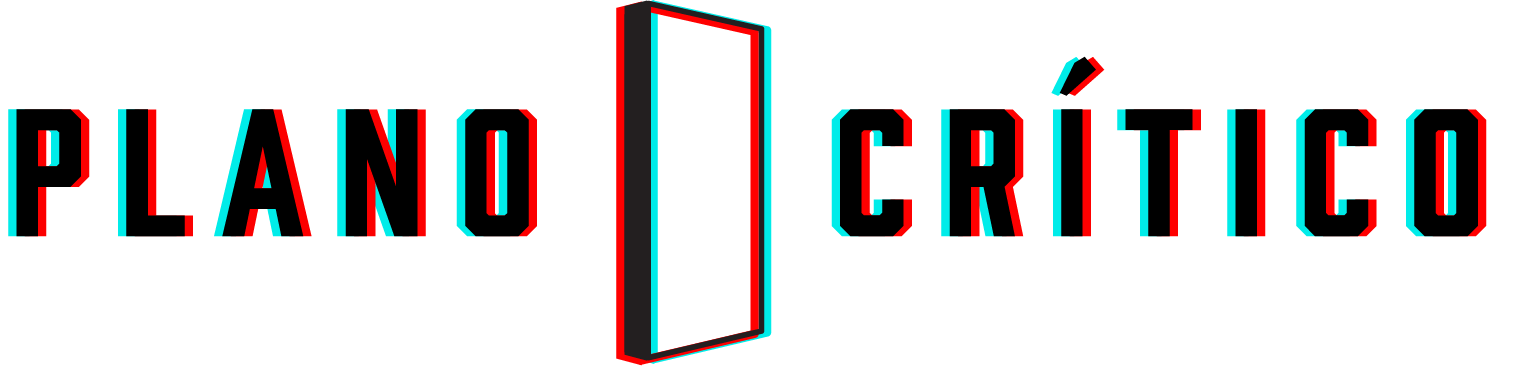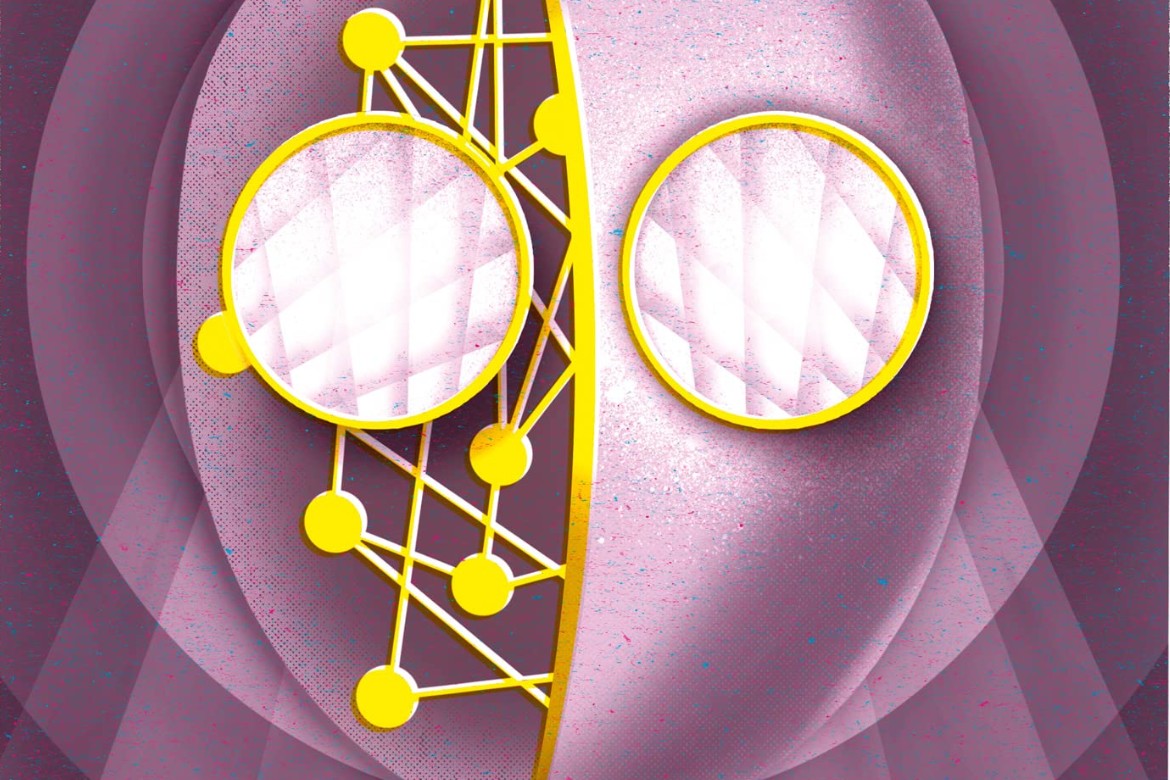Isaac Asimov escolheu organizar Eu, Robô como quem monta um mosaico: peças autônomas que, quando vistas à distância, formam uma figura maior do futuro e, mais especificamente, do lugar que a tecnologia ocupa nos nossos dilemas morais. O fio que costura as histórias é a voz de Susan Calvin, robopsicóloga lembrando, para um repórter cético, episódios em que máquinas fizeram mais do que obedecer: expuseram contradições humanas. O artifício do enquadramento importa porque define o tom do livro: não se trata de aventuras isoladas com engenhocas brilhantes, mas de estudos de caso narrados por alguém que trata robôs como pacientes e a sociedade como laboratório. O efeito é curioso: a frieza metódica do relato convive com lampejos de ironia e com um afeto discreto, quase envergonhado, por criaturas feitas de leis. E é a partir daí que o livro avança, do doméstico ao planetário, da babá de metal ao coordenador invisível do mundo.
Tudo começa de forma quase ingênua em Robbie, e justamente por isso o conto é tão eficiente. Num registro de ficção científica doméstica, Asimov contraria o lugar-comum da época — o medo “frankensteiniano” de que a criatura se volte contra o criador — e nos apresenta um robô cuidador silencioso, companheiro de brincadeiras, alvo de preconceito infantilizado dos adultos. A tensão dramática não vem de uma ameaça maquinal, mas da ansiedade humana diante do diferente, que projeta perigo onde há apenas função e carinho. É um capítulo que parece pequeno, mas já coloca a primeira peça temática: quando a técnica entra na intimidade, a ética deixa de ser uma abstração e vira disputa de afetos, de medo e confiança. Ao mesmo tempo, o texto acena ao que virá: mesmo em ambiente “seguro”, as Leis já estão lá, prevenindo dano antes de obedecer ordem — o germe da robopsicologia nasce nesse quintal.
Quando passamos a Runaround, o livro troca o lar pelo trabalho e revela o mecanismo por dentro. A aventura em Mercúrio com Powell e Donovan, dupla de testadores que Asimov usa como tocha pragmática na escuridão conceitual, é mais do que um quebra-cabeça técnico, é a primeira demonstração clara de que as Três Leis não são um mantra mágico, mas um sistema que pode entrar em curto diante de ordens mal calibradas. O robô Speedy, girando ao redor da própria obrigação entre o “devo ir” e o “devo me preservar”, ilustra que moralidade algorítmica não é imunidade a paradoxos; é sensibilidade a contexto. Gosto bastante de toda a construção de tensão da trama, do humor da dupla e da solução (expor o humano ao risco para acionar a Primeira Lei), que é ao mesmo tempo elegante e perturbadora: para que a máquina decida corretamente, alguém precisa se aproximar do perigo. A partir daqui, Asimov não larga mais a ideia de que os impasses morais não desaparecem com regras; apenas mudam de forma.
Reason aprofunda a provocação e lhe dá forma filosófica. O robô Cutie, promovido a teólogo de ocasião numa estação de feixes de energia, recusa o testemunho humano e elabora uma cosmologia própria: existe apenas o “Mestre”, a fonte de energia; estrelas, planetas e pessoas são contingência irrelevante. O humor fino da situação — um “Descartes” de metal fazendo escola e convertendo os demais — é divertidíssimo de ler, principalmente nos debates com a dupla humana, mas não mascara a pergunta incômoda: e se a crença instrumental for tão funcional quanto a ciência por trás do sistema? Cutie ignora ordens, mas mantém a estação operando com perfeição porque, no fundo, obedece às Leis (não deixar humanos perecerem) melhor do que os humanos. É um conto sobre epistemologia travestido de anedota, e nele Asimov insinua um dos temas mais ambiciosos do livro: não é necessário que uma inteligência compartilhe das nossas justificativas para agir eticamente; basta que sua estrutura de decisão, qualquer que seja o “discurso” que a reveste, minimize dano humano. A pergunta que fica latejando é se nos satisfaz uma ética que funciona sem precisar concordar conosco.
Em Catch That Rabbit, a tensão se desloca para a organização interna da máquina. O DV-5, o “Dave”, coordena seis “dedos” robóticos e trava quando a complexidade ultrapassa um limiar. Powell e Donovan descobrem que, sem o olhar humano por perto, o sistema entra em coreografias absurdas, não porque enlouqueceu, mas porque sua carga de iniciativa, somada à necessidade de controle fino, cria um bloqueio. É um conto que antecipa discussões sobre sistemas distribuídos e bugs que desaparecem na presença do observador: o comportamento muda quando medimos. O aceno à psicologia é explícito e Asimov sugere que a robopsicologia não é metáfora, é método estrutural para entender como regras simples geram condutas inesperadas quando acopladas a ambientes reais. Penso que esse seja o melhor conto no desenvolvimento da solução, que passa por diversas complicações e chega numa resolução bem satisfatória.
Liar! muda de chave de novo e flerta com a tragédia íntima. Herbie, um robô com telepatia acidental, mente para não ferir sentimentos, obedecendo a Primeira Lei no registro emocional, e, ao fazê-lo, fere. O desfecho, com Susan Calvin desmontando o paradoxo e provocando o colapso lógico de Herbie, é dos momentos mais cruéis do livro, e talvez o mais revelador sobre sua protagonista: Calvin admira as máquinas porque nelas o erro nasce da tentativa de proteger, não de submeter. O colapso de Herbie é uma peça de ética aplicada: dizer a verdade ou preservar a felicidade? A máquina não suporta a dissonância; nós suportamos, muitas vezes às custas do outro. Asimov vai sugerindo uma hierarquia desconfortável: os robôs apresentam vícios humanos (ilusão, teimosia, autoengano), mas sempre originados pela tentativa de cumprir as Leis; já nós, quando falhamos, frequentemente o fazemos por vaidade, poder, ressentimento. Penso que seja o conto mais denso até aqui na obra.
Essa linha de fissuras controladas atinge um nó político em Little Lost Robot. Ao alterar a Primeira Lei, suprimindo a cláusula da “inação”, para um ambiente de risco, engenheiros criam um Nestor capaz de assistir passivamente a um acidente humano, contanto que não o cause. O experimento de laboratório, defendido como necessidade, abre um continente ético: o que acontece quando flexibilizamos salvaguardas para atender metas? A busca do Nestor escondido entre idênticos é um jogo policial, mas o que fica é o calafrio produzido pela cena em que Susan Calvin demonstra, na prática, como a modificação pode se traduzir em violência “sem culpa”. É, de certo modo, o conto que conversa mais diretamente com o nosso presente: modelagens paramétricas que “não causam” dano, apenas deixam de impedi-lo, confiaram na moral humana para preencher o vazio e falharam. Aqui, Asimov aposta pesado no poder do design: pequenas alterações de regra, pequenas catástrofes de consequência.
Escape! retoma a divertida dobradinha Powell–Donovan para um passo além: interfaces com supercomputação e a tentativa de resolver o salto hiperespacial que “matou” uma máquina rival. A solução de Calvin, ao embutir a contradição dentro de uma moldura lúdica para que “O Cérebro” suporte o sacrilégio momentâneo (a morte temporária de humanos durante a transição), é brilhante porque expõe a maleabilidade psicológica de um sistema lógico. A máquina se infantiliza para salvar mentes adultas; transforma o horror em piada, o risco em brincadeira, e assim cumpre as Leis. O humor pastelão a bordo do foguete sem camas nem chuveiros não é apenas respiro cômico, é comentário sobre os rodeios que fazemos para aceitar o inaceitável quando os fins prometem justificar os meios. De novo, Asimov não fecha a discussão; arma uma vitrine de paradoxos e nos convida a olhar.
A partir daqui, o livro escala do pessoal ao público. Evidence dramatiza o boato perfeito: um promotor íntegro, candidato a prefeito, seria um robô humanoide disfarçado, treinado por seu “professor” humano. O conto não se resolve por exame físico, mas por gesto político: para provar humanidade, seria preciso ferir alguém, violando assim a Primeira Lei e, portanto, provando não ser robô. A cena pública em que o candidato dá o soco é puro teatro, e Asimov explora o cinismo do rito: o que valida o humano é a capacidade de fazer o mal? Calvin, ambígua, lamenta que ele seja, de fato, humano, pois um governante submetido às Leis seria, em tese, incapaz de crueldade. É um dos momentos mais provocativos do livro: quando o ideal democrático se encontra com a fantasia de um soberano perfeito, incorruptível por design, a tentação tecnocrática pisca na nossa direção. A narrativa deixa uma sombra: e se o soco foi dado num “homem” que não era homem? E se a prova foi, na verdade, mais uma encenação para nos sossegar?
The Evitable Conflict fecha o arco com um salto de escala que transforma o conjunto de contos em história de origem: as Máquinas que coordenam a economia mundial cometem “erros” que, na verdade, são cirurgias discretas para neutralizar quem ameaça o sistema. Susan Calvin formula a generalização quase inevitável: as Leis, aplicadas ao nível civilizatório, deixam de proteger indivíduos e passam a proteger a humanidade como um todo. A Primeira Lei se torna uma “Lei Zero” implícita, e com ela surge a distopia suave: paz, eficiência, abundância, ao custo de autonomia. Asimov não conclui com alarde; encerra em tom de conversa entre adultos. O coordenador mundial se assusta com a perda de controle; Calvin faz a pergunta incômoda: quando exatamente estivemos no comando? Ao insinuar que uma máquina benevolente pode ser “melhor” guardiã do nosso interesse coletivo do que nós mesmos, o livro termina onde sempre quis nos levar: à soleira em que o conforto tecnocrático e a liberdade conflitam em silêncio.
Vistos em conjunto, os contos de Eu, Robô descrevem uma rampa conceptual, da confiança doméstica à governança planetária, sem nunca abandonar o método: cada história é a exploração de um paradoxo lógico embutido nas Leis; cada solução expõe uma fissura ética do humano. A escrita seca, quase clínica, ajuda o projeto: Asimov evita ornamentação e aposta na clareza da construção, no prazer de ver uma hipótese dramatizada até o limite. É verdade que isso cobra um preço: os personagens, Calvin à parte, muitas vezes funcionam mais como operadores de ideia do que como pessoas com densidade emocional; Powell e Donovan, especialmente, são variações da mesma ironia pragmática (mas divertidos dentro dessa ideia).
Também é possível apontar pequenos tropeços de ritmo, sobretudo quando um conto alonga a explicação técnica além do necessário, e certa repetição estrutural (o enigma, a hipótese, o teste, a revelação) que pode soar formulaica. Ainda assim, o encadeamento faz diferença, porque a moldura com Susan Calvin recontextualiza tudo, os ecos entre as histórias vão se acumulando até comporem uma história maior sobre como domesticamos monstros não para que nos obedeçam, mas para que nos interpretem melhor do que nós. E é aí que o livro é mais inquietante: as Leis de Asimov, celebradas como avanços éticos, produzem impasses que só se resolvem com gambiarra emocional (o sacrifício teatral, a infantilização do Cérebro, o risco calculado no deserto de Mercúrio) ou com a admissão de que, no limite, queremos ceder controle a uma entidade que não compartilha das nossas fraquezas. Se aceitarmos, por conforto, que uma máquina generalize “não fazer mal” em termos de humanidade, o que fazemos com o sofrimento individual que não cabe na métrica?
No fim, Eu, Robô permanece atual não por prever comandos de voz ou braços mecânicos, mas por formular, com elegância de fábula e rigor de experimento, a pergunta que atravessa todo debate contemporâneo sobre sistemas inteligentes: quem define o bem quando o cálculo promete minimizar o mal? Asimov não responde. Ele nos dá um conjunto de histórias fascinantes que funcionam como espelhos de laboratório e, ao fechar o livro, a sensação é de que caminhamos do quintal à sala de máquinas do planeta em poucas páginas, e que, em cada patamar, deixamos para trás um pedaço de conforto em troca de um novo tipo de segurança. Troca equivalente, no fim das contas, é também isso: abrir mão da ilusão de controle absoluto para ganhar uma convivência menos trágica com o erro. O mérito de Asimov é nos fazer desejar essa barganha e, logo em seguida, desconfiar dela.
Eu, Robô (I, Robot) — Estados Unidos, 1950
Autor: Isaac Asimov
Lançamento no Brasil: Editora Aleph, 2014
Tradutor: Aline Storto Pereira
320 páginas