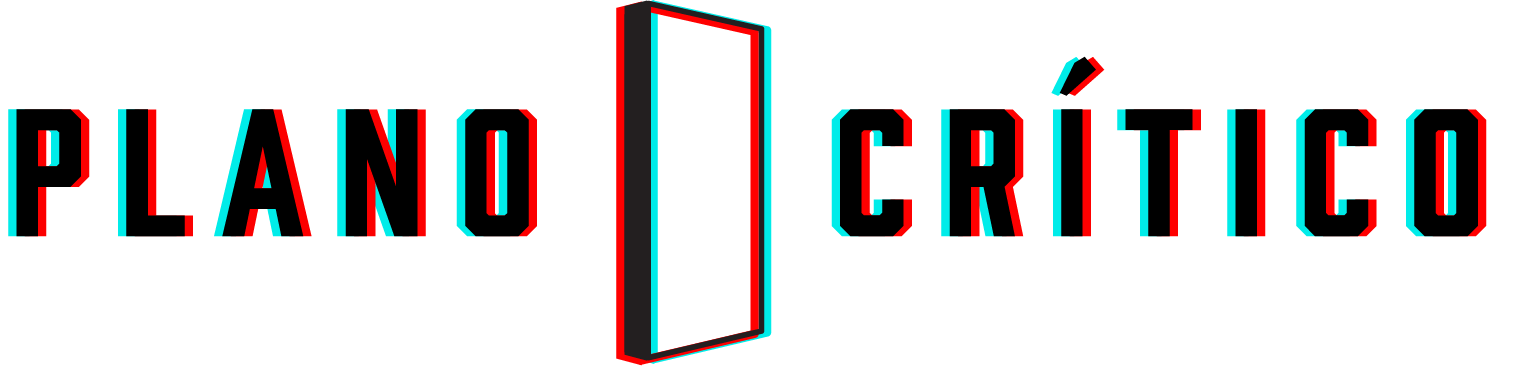Publicado em 1862, Lucíola é um romance de José de Alencar que explora temas como amor, moralidade, a condição feminina e a crítica social em um Brasil em transformação. Em suas páginas descritivas, bem características do movimento romântico, a protagonista Lúcia representa a mulher da época, submissa e limitada por convenções sociais. A obra aborda a luta interna da protagonista entre o desejo de liberdade e as pressões da sociedade patriarcal, refletindo as dificuldades enfrentadas pelas mulheres no Brasil do século XIX. O amor de Lúcia por Paulo é central à narrativa, e o sacrifício é um tema recorrente. A relação deles é envolta em tensões entre o desejo pessoal e o dever social, explorando a ideia de que o amor verdadeiro muitas vezes exige desistências e renúncias. Ao longo do romance, o escritor debate a noção de virtude em contraste com a moralidade questionável da sociedade. Lúcia, que é apresentada como uma mulher virtuosa e de bom coração, ainda enfrenta o estigma da sociedade, quando sua relação com Paulo gera dúvidas sobre sua moralidade.
Alencar critica a hipocrisia da sociedade da época, que julga e condena as mulheres por ações que os homens muitas vezes cometem sem repercussões. Essa crítica beira a hipocrisia das instituições sociais que moldam e controlam o comportamento feminino. Ademais, a família é um tema essencial na obra. A relação de Lúcia com seus pais, especialmente com seu pai, reflete as expectativas familiares e a pressão que elas exercem sobre ela. Essa dinâmica familiar destaca como o amor pode ser complicado por exigências sociais e familiares. Neste cenário, a natureza também desempenha um papel significativo na obra. As descrições das paisagens e ambientes refletem os estados emocionais dos personagens, tornando a natureza um elemento que interage com suas experiências e sentimentos. E, apesar das limitações impostas a Lúcia, a obra valoriza seu protagonismo. Sua força e resiliência em meio às adversidades refletem uma nova modelagem da mulher na literatura. Lúcia é retratada como uma figura complexa, cujos dilemas pessoais e emocionais são centrais à narrativa.
E, nas páginas de O Império da Cortesã, publicado em 1987, Valéria de Marco, pesquisadora e professora, nos entrega uma análise acessível para todos os públicos, onde traça uma análise focada na polêmica acusação: teria José de Alencar plagiado a sua história completamente do clássico A Dama das Camélias, da Alexandre Dumas Filho? Ou, nesse esquema, Lucíola seria o resultado de sua vasta cultura de leitura e, consequentemente, ressonância das narrativas consumidas em seus momentos diletantes? É o que podemos contemplar nesta análise interessante. A protagonista Lúcia é parte de uma obra que transita entre os ideais românticos da época e uma abordagem que começava a se aproximar da estética realista. A idealização do amor, típica do romantismo, é confrontada com as realidades sociais e morais da vida cotidiana, criando uma tensão entre os desejos e a realidade. Lúcia enfrenta uma luta pela sua própria identidade e autonomia. Ao longo da narrativa, sua busca por um lugar próprio na sociedade e por um amor que a complete é um reflexo da busca por liberdade e individualidade feminina.
Lucíola, então, é um romance utilizado por José de Alencar como pano de fundo para a reconstituição da memória do Rio de Janeiro do século XIX, sendo especialmente valorizada pela descrição do cotidiano carioca, como a icônica Rua do Ouvidor, onde as “novidades chegadas da Europa” se entrelaçam com a vida das cortesãs. O enredo não apenas captura o clima mundano vivido por suas protagonistas, mas também reflete um período marcado por transformações sociais e culturais. A crítica contemporânea, notando a importância dos aspectos cotidianos que frequentemente são negligenciados, encontra em O Império da Cortesã uma proposta que se revela significativa, não só ao explorar a figura da cortesã, mas ao apresentar uma abordagem que se distancia da neutralidade acadêmica, trazendo uma perspectiva mais pessoal e envolvente. Valéria de Marco, com quem tive contato na graduação para trocas sobre Lucíola, um romance de meu interesse desde que comecei os clássicos, em sua análise, evidencia o compromisso de Alencar com as influências literárias europeias, sublinhando suas preferências e referências, como Alexandre Dumas Filho e Balzac, numa relação intertextual bem estabelecida.
O trabalho de Valéria é dividido em três partes, abrangendo desde a produção crítica de Alencar e suas obras, até a análise de romances contemporâneos que dialogam com Lucíola, tais como Moll Flanders, Manon Lescault e o principal no processo de análise, A Dama das Camélias, publicação que gerou polêmica e acusações apressadas de plágio, lá no agitado campo da literatura e crítica brasileira do século XIX. A autora propõe reflexões sobre a regeneração feminina e as complexas relações entre a literatura nacional e suas influências estrangeiras, utilizando uma linguagem acessível que busca reconstruir os laços entre o texto de Alencar e a sociedade da época, enriquecendo a compreensão do papel da mulher na literatura e na cultura brasileira. Essa articulação entre o passado e a análise crítica contemporânea contribui para uma visão mais ampla e integrada da obra alencariana, evidenciando seu valor na discussão sobre a identidade literária do Brasil. Em linhas gerais, apresenta uma análise profunda da obra de José de Alencar, utilizando a figura de Lúcia como um pretexto para um perfil mais abrangente do autor. É uma reflexão de pouco mais de 200 páginas com linguagem direta e objetiva.
O seu subtítulo, por sinal, sugere um foco limitado, mas o texto se expande para discutir, de maneira elegante e sóbria, a complexidade do Brasil do século XIX e as influências que moldaram a literatura nacional. Valéria provoca uma reflexão sobre a identidade literária, discutindo como Alencar aborda questões pertinentes à construção de uma literatura nacional, desafiando os leitores a reconsiderar sua percepção sobre o autor e seu contexto histórico. Além de reforçar a importância de Alencar, o livro destaca como sua obra se insere nas dinâmicas culturais daquele período, trazendo à tona um diálogo imprescindível entre a realidade brasileira e as “influências” europeias. A autora analisa como o romance alencariano reflete as tensões e as aspirações do Brasil em busca de uma identidade literária própria em meio a importações culturais. Ao centrar-se nesse diálogo, O Império da Cortesã não só apresenta um retrato renovado de Alencar, mas também instiga uma análise crítica das interações entre a literatura brasileira e as influências externas, abrindo caminhos para novas reflexões sobre o passado e o presente da literatura nacional. Ao longo do texto, o livro nos permite retomar questões sobre o estabelecimento daquilo que Machado de Assis chamou de Instinto de Nacionalidade num ensaio.
Mas, afinal, o que seria isso? Simples. No Brasil, a tradição escrita nas relações entre autor, obra e público enfrentou diversos desafios ao longo de quase dois séculos, especialmente devido à predominância de auditórios religiosos e à falta de formação letrada da população, acarretando um público leitor restrito à elite. A partir dos árcades, conforme Antonio Candido, nós tivemos uma tentativa de formação de uma base de leitores, embora ainda atrelada aos modelos clássicos europeus. Essa configuração valoriza a retórica, mas prejudica o desenvolvimento de um estilo literário acessível e voltado à leitura. O movimento romântico, influenciado pelas ideias da Revolução Francesa e pela intelectualidade iluminista, procurou expressar uma singularidade nacional por meio da construção de temas e mitos brasileiros, tendo José de Alencar como uma figura central nesse processo.
Sua obra não apenas retratou a natureza do país, mas também ajudou a idealizar o “bom selvagem” como símbolo da identidade nacional. O contexto da Independência do Brasil trouxe aos escritores uma consciência de suas responsabilidades cívicas e literárias, levando à busca por uma literatura que refletisse as aspirações políticas e culturais do novo país, estabelecendo assim os alicerces para uma tradição literária que continuaria a evoluir. A influência, que hoje preferimos chamar de ressonância, do romance europeu na obra de José de Alencar é notável, especialmente na sua abordagem aos grandes temas da literatura romântica brasileira. Enquanto Alencar se alinha a uma estética grandiloquente, refletindo o mundo externo de forma direta, Machado de Assis dá um passo distinto ao adotar uma perspectiva mais irônica, que transforma situações grandiosas em contextos grotescos. Essa transição de temas destaca como a literatura brasileira se desenvolveu a partir de uma produção coletiva, onde a fragmentação familiar em Alencar, expressa em obras como Senhora e Lucíola, nos aponta para uma visão da mulher que, apesar de ainda estar sob a influência romântica, começa a desafiar as convenções patriarcais.
É uma análise que revela uma redefinição da identidade feminina na sociedade, sendo Aurélia e Lúcia personagens que, mesmo em um ambiente patriarcal, emergem com uma forte autonomia amorosa. Alencar, ao abordar a prostituição de maneira inovadora, introduz uma representação das mulheres que interage de forma dinâmica com sua realidade social, destacando suas personalidades, enquanto constrói enredos que geralmente evitam conflitos externos intensos. Essa complexidade psicológica e social, que já começa a se desenhar em Alencar, será aprofundada e sofisticada na prosa de Machado de Assis, sinalizando um importante movimento na consolidação do sistema literário brasileiro e na transformação das narrativas em torno das experiências femininas. O processo de transformação do público durante o romantismo revela uma contradição intrínseca ao movimento. Embora o romantismo tenha surgido em um contexto de individualismo, ele também coincidiu com um forte nacionalismo e uma expansão da educação, fazendo com que os escritores se tornassem dependentes de seus leitores em vez dos antigos patrocinadores das classes altas.
Essa mudança sinaliza um primeiro passo em direção à comunicação de massa, com a literatura romântica, apesar de sua ênfase na expressão individual, voltando-se para o público e buscando cativá-lo, especialmente as mulheres de educação elementar. Assim, essa produção literária emerge em um ambiente de entusiasmo nacional, elogiando a natureza e celebrando a juventude, ao mesmo tempo em que alguns poetas, influenciados por Lord Byron, tentam trazer nuances de pecado e maldição para a realidade provinciana do Brasil do século XIX. A crítica que surge no final do século XIX à ilusão do Brasil imperial e à ingenuidade de sua liderança aponta, no entanto, para uma reflexão mais ampla sobre a importância do romantismo na formulação de normas estéticas que traduzem a realidade brasileira. Os românticos brasileiros, conscientes de seu papel, exploraram elementos fundamentais do nacionalismo e buscaram estabelecer símbolos que pudessem definir a identidade nacional. A partir de 1836, ano convencional do início do romantismo brasileiro, há uma continuidade notável entre as produções literárias de séculos anteriores e as que se desenvolveriam, evidenciando a relevância histórica e cultural desse movimento na definição da literatura e da identidade brasileira.
No geral, um livro que foca em Lucíola, mas nos entrega uma análise abrangente de José de Alencar.
O Império da Cortesã (Brasil, 1987)
Autoria: Valéria de Marco
Editora: Martins Fontes
Páginas: 168