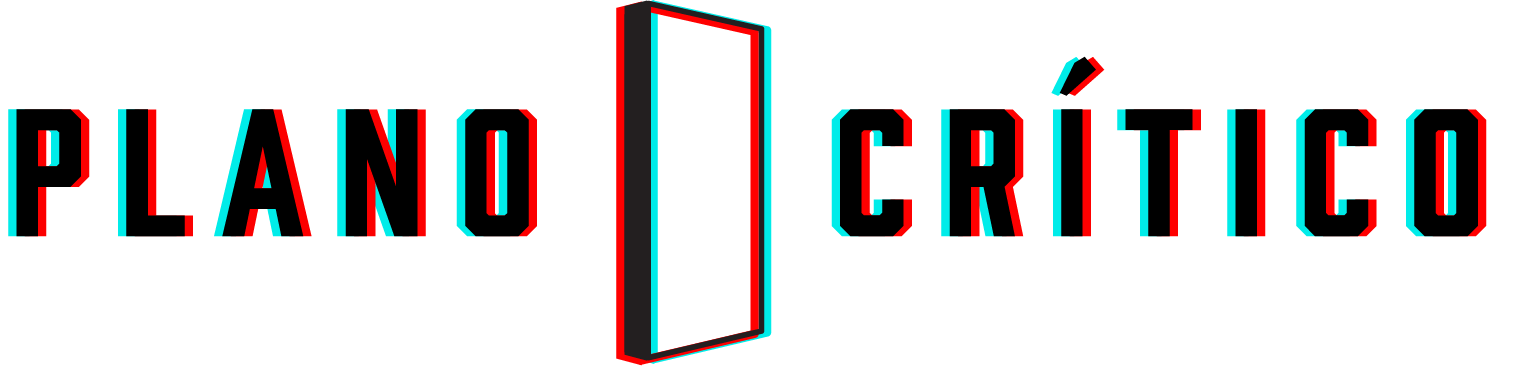Neuromancer repousou em minha prateleira de “livros a serem lidos” durante muitos e muitos anos. Foram diversas tentativas de lê-lo, nenhuma delas capaz de me fazer passar do primeiro capítulo. Foi com o lançamento de Periféricos, série infelizmente cancelada com apenas uma temporada, que meu interesse pela obra seminal do autor canadense-americano William Gibson renovou-se, ainda que tenha demorado mais algum tempo para eu finalmente recomeçar a leitura. Apesar de não ser novato em romances que criam seus próprios universos, línguas e jargões – aliás, eu muito aprecio esse tipo de obra, de O Senhor dos Aneis, passando por Duna e chegando em Laranja Mecânica – sempre tive dificuldade de apontar meu problema com Neuromancer, assim como também não sei a razão de eu não conseguir passar das primeiras 15 páginas de Ulysses.
No entanto, diferente da obra de James Joyce, eu finalmente desbravei o livro de Gibson e talvez a razão para minha demora em me envolver com a narrativa do autor seja a capacidade que ele tem de trafegar paralelamente aos aspectos principais de sua história, não exatamente enrolando, mas talvez um tanto quanto enamorado demais pelos mundos que cria, o real em um futuro distópico da Terra e o virtual onde seu protagonista, o hacker Case, se sente em casa. Por outro lado, pode ter sido só mesmo uma desconexão crônica minha em relação à maneira como o autor escreve, pois, a partir de certo ponto da história, talvez quando ela realmente começa, a leitura tenha seguido mais fluidamente, ainda que fluidez não seja algo que Neuromancer tenha com constância.
O romance de Gibson, que muitos consideram como a semente do cyberpunk (o termo em si surgiu um ano antes, por Bruce Bethke), mas que, na verdade, é a obra que, ao lado de Blade Runner, de 1982, não exatamente começou, mas sim popularizou esse subgênero da ficção científica, exige que o leitor moderno (não é meu caso, pois sou leitor-dinossauro) rebobine no tempo para apreciar a visão desbravadora do autor no que se refere ao ciberespaço, à realidade virtual, à conexão do Homem com a Máquina, ao vício por computador, inteligência artificial e assim por diante. Aliás, já que mencionei Blade Runner, o paralelo com o longa de Ridley Scott se dá em outro nível também, já que Neuromancer começou pequeno, como uma obra de nicho, underground, com um público acanhado, mas que, aos poucos, foi ganhando reconhecimento e importância até ser aceito como um marco do gênero. E vou além, pois Blade Runner e Neuromancer não são obras de fácil digestão imediata e precisam mesmo de um tempo de maturação para a compreensão não de suas respectivas histórias, mas sim do quanto elas eram e, em vários aspectos ainda são, além de seu tempo.
Neuromancer é, em sua descrição mais basilar, um romance de assalto, em que Case, um hacker banido do ciberespaço (ou da matrix), é contratado por uma pessoa misteriosa para fazer parte de uma equipe cujo objetivo é roubar um módulo ROM. Ele é curado de seu banimento – que é físico em razão de uma espécie de veneno que o mataria se ele se conectasse novamente -, mas é ao mesmo tempo aprisionado por seu contratante com a implantação de uma bomba relógio que o obriga a agir rápido, antes que ela detone, o que faz do romance uma interessante corrida contra o tempo que não só aborda o assalto cibernético em si, como também a união do protagonista com Molly, uma mercenária com implantes tecnológicos que lhe dá, principalmente, visão especial e lâminas nas mãos e que fora criada por Gibson em Johnny Mnemonic, de três anos antes), para investigar as reais intenções de seu contratante, o que abre todo um caminho fascinante que ajuda a construir a história desse mundo criado por Gibson.
Abaixo dessa superfície que, vale dizer, não é nada rasa, já que contém diversas e profundas camadas de construção de mundos, Gibson, que bebe copiosamente de visuais de Jean Giraud, mais conhecido como Moebius, e de romances noir como os de Raymond Chandler, além de se valer de doses generosas de lisergia vindas diretamente de William S. Burroughs, em seu Almoço Nu (adaptado para o cinema por David Cronenberg e que ganhou o título idiota Mistérios e Paixões por aqui), vai além e cavouca com vontade as relações entre corporações e governos e entre elas e seus funcionários, a desregulação governamental, o submundo esquecido de enormes centros urbanos (a conurbação extrema é marca da Terra de Gibson e ganha um nome que batizou a trilogia literária, Sprawl), o privilégio de uma casta de ricos muito distante dos desfavorecidos e que não só os exploram, como pouco ligam para eles, a evolução acachapante da tecnologia e o vício literal que essa dependência traz, a segurança das informações, discussões sobre a privacidade e diversos outros temas que, se eram relevantes no começo da década de 80 (e alguns realmente eram, notadamente o desfazimento da regulação governamental sobre corporações notadamente nos EUA) tornaram-se urgentes, verdadeiros alarmes de incêndio nos dias atuais a ponto de a obra ser até capaz de causar angústia em quem a lê agora.
No entanto, aquela impressão de que Gibson estava muito mais interessado em seu mundo e em suas particularidades do que em personagens e em construção narrativa permaneceu presente ao longo de toda a leitura. Case e Molly, apesar de interessantes, parecem existir apenas no momento em que a história acontece, com suas dimensões sendo apenas vislumbres, o que os transformam em arquétipos. Não é algo que surpreenda, vale ressaltar, dada a influência dos romances noir que citei acima, mas essa característica cria uma desconexão grande com tudo o que há ao redor dos dois. Enquanto o mundo construído é vívido e pujante de ancestralidade e de complexidade, Case é o que ele é ali mesmo na superfície, com Molly ganhando ainda menos profundidade e não passando, muitas vezes, de um construto que se define por seus implantes cibernéticos. E o mesmo vale para o vilão (ou vilões) imediato – os mediatos, como corporações, a falta de governo e tudo mais são ótimos, em contraste -, não mais do que alguém ou algo que cumpre uma função bem específica e que não foge à ela nem por um segundo. Narrativamente, a história resvala no repetitivo, na evolução a conta-gotas, mais parecendo uma novela estendida do que um romance propriamente dito, ainda que, sou o primeiro a reconhecer, muito do que Gibson escreva favoreça imensamente o worldbuilding, o que, claro, suaviza minha crítica.
Fiquei feliz por ter conseguido desbravar Neuromancer finalmente. Trata-se realmente de uma obra de visão, presciente em muitos aspectos e que tem muita personalidade, especialmente quando pensamos nessa distopia cibernética que o autor esmera-se em criar. Tendo finalmente engolido a pílula vermelha, resta-me, agora, criar forças para continuar nessa jornada e seguir adiante em meu mergulho com a leitura do restante da chamada Trilogia do Sprawl.
Neuromancer (Idem – EUA, 1984)
Autoria: William Gibson
Editora original: Ace Books
Data original de publicação: 1º de julho de 1984
Editora no Brasil: Editora Aleph
Data de publicação no Brasil: 19 de agosto de 2016
Tradução: Fábio Fernandes
Páginas: 320