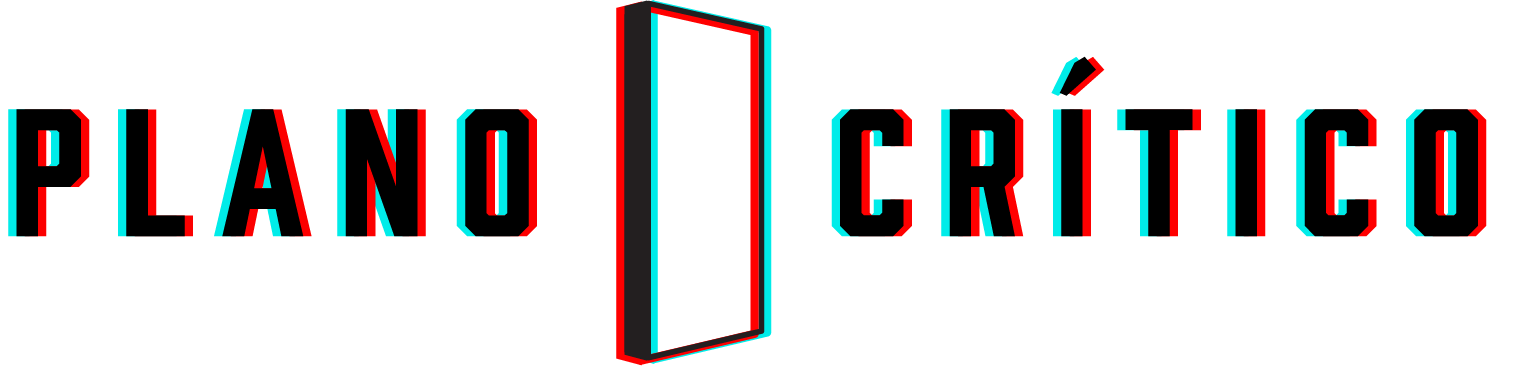Clássico do cinema dirigido por Alfred Hitchcock, lançado em 1958, Um Corpo Que Cai possui uma valiosa edição especial com comentários realizados pelo cineasta William Friedkin, conhecido por suas narrativas suntuosas, tais como Parceiros da Noite, O Exorcista, dentre outros filmes marcantes do cinema hollywoodiano. Numa análise que comenta passo a passo as cenas a extensa narrativa, o conteúdo é uma abrangente aula não apenas de linguagem cinematográfica, mas também um panorama das operações que compõem uma análise fílmica, isto é, a observação da sinopse, a reflexão sobre a estética e as questões que circundam o contexto de realização e lançamento de uma produção. Por questões práticas, iniciarei a crítica desta edição com um painel sobre o filme, para logo depois, adentrar nas questões delineadas por Friedkin ao longo dos 128 minutos da trama, combinado? Em linhas gerais, a narrativa é uma história que emprega os habituais elementos do gênero do suspense, juntamente com a apurada exploração de temas complexos, dentre estes, a obsessão, as complexidades da identidade, a dor da culpa e a natureza do amor. Centrada em John “Scottie” Ferguson, interpretado por James Stewart, um ex-policial que sofre de acrofobia, um medo extremo de altura, condição que se torna um elemento central na trama, o filme se desenvolve em São Francisco, um cenário que, com suas colinas íngremes e vistas deslumbrantes, se torna quase um personagem à parte no desdobramento das questões dramáticas que são apresentadas.
A trama começa com Scottie perseguindo um criminoso em um telhado. Não há explicações sobre a situação, apenas nos é mostrado. Hitchcock não se prende a detalhar por quais motivos aquilo está acontecendo para a nossa apreciação. E isso, de fato, nem interessa muito. Durante a perseguição, ele escorrega e quase cai, desencadeando seu medo de altura. A partir deste evento, seu estado psicológico se agrava, levando-o a se retirar da vida ativa. A história ganha novo impulso quando um velho amigo, Gavin Elster (Tom Helmore), o contrata para seguir sua esposa, Madeleine Elster (Kim Novak). Gavin suspeita que Madeleine esteja possuída pelo espírito de Carlotta Valdes, uma mulher que viveu no século XIX e que se suicidou. A partir daí, Scottie se torna obcecado por Madeleine. Ele a segue em sua jornada, que a leva a vários locais históricos de São Francisco, especialmente ao cemitério onde Carlotta está enterrada e ao Museu de Arte, onde um retrato de Carlotta a fascina. Nestas passagens, a direção de fotografia de Robert Burks, combinada com a textura percussiva marcante de Bernard Herrmann, acentua o suspense e a tensão emocional. Em várias cenas, o uso do efeito dolly zoom, que cria a ilusão de que o fundo está se afastando enquanto Scottie se aproxima, é um recurso visual notável que simboliza sua crescente ansiedade. É a representação da vertigem no drama e na estética, formidáveis para a época e empregados constantemente na posteridade por outros cineastas.
À medida que o enredo avança, Scottie se apaixonou por Madeleine, mas sua personagem continua a permanecer ambígua, esvaindo-se entre a realidade e a fantasia. O ponto alto do filme ocorre na sequência em que Scottie leva Madeleine ao topo da icônica Torre Coit, onde seu medo de altura é reavaliado. Na verdade, ele enfrenta não só o seu medo físico, mas também a revelação da sua própria vulnerabilidade emocional, o que culmina em sua incapacidade de salvar Madeleine de um destino trágico. A narrativa não seria completa sem a presença de Judy Barton, que também é interpretada por Kim Novak. A revelação final do filme ocorre quando Scottie descobre que Madeleine era na verdade uma fachada criada por Judy a mando de Gavin, que a usou como uma peça em um plano para recuperar uma herança. Esta reviravolta provoca um profundo impacto em Scottie, que foi incapaz de perceber que sua paixão estava baseada em uma ilusão, não em uma relação genuína. É um desfecho perturbador, pois provoca questões sobre a natureza da identidade e a forma como as pessoas podem ser manipuladas.
Scottie, uma vítima de suas próprias fantasias, é confrontado pela dura realidade de que a mulher que amava não existia como ele pensava. A ação culmina em um clímax emocional quando Scottie tenta recriar sua visão de Madeleine, pedindo a Judy que se transforme novamente na mulher que ele perdeu. A insistência de Scottie em reviver o passado o leva a uma situação assustadora quando Judy, em um estado de angústia, acaba sem querer causando sua própria morte ao cair de um sino. Assim, No final, o que temos como lição é que Hitchcock utiliza elementos do sonho e da realidade para proporcionar uma experiência cinematográfica intensa que absorve o espectador em sua trama intricada. O uso recorrente de símbolos visuais, como os espelhos, nos lembra do tema da duplicidade. Madeline e Judy são faces diferentes da mesma mulher, e Scottie se vê projetando suas próprias inseguranças e anseios em ambas. O filme provoca uma reflexão sobre o que significa realmente conhecer alguém e as armadilhas do amor idealizado. Ressonante na posteridade, Um Corpo Que Cai ganhou uma espécie de reinterpretação livre no roteiro de Instinto Selvagem, texto de Joe Eszterhas, transformado em imagens evocativas do clássico do mestre do suspense pela direção ousada de Paul Verhoeven e fotografia assinada por Jan de Bont, realizadores que emulam não apenas a cenografia do filme do clássico de 1958, mas também empregam traços dos figurinos, da trilha, dentre outros.
Nos comentários da edição em questão, selecionada para análise por aqui, parte do projeto Além de Uma Cruzada de Pernas: O Legado e o Impacto Cultural de Instinto Selvagem, nós podemos acompanhar o cineasta William Friedkin em tom empolgado, traçando informações sobre os bastidores do clássico, contando de maneira humorada, inclusive, o seu primeiro contato com o diretor no set de filmagens de um projeto seu realizado nos anos 1970. Dentre os principais pontos abordados por ele ao longo da projeção de Um Corpo Que Cai, temos as observações sobre este ser um filme pautado na obsessão e culpa como termos norteadores da história, que já começa a apontar sua temática na trilha de Hermann em suas primeiras notas na abertura. Ele conta que Hitchcock só usou a novela dos franceses Pierre Boileau e Thomas Narcejac como ponto de partida, pois apesar de ser uma tradução do enredo dos mesmos autores de As Diabólicas, o filme segue por um caminho próprio, repleto de liberdades semióticas. Ele não utiliza necessariamente tais expressões, caro leitor, aqui estou citando indiretamente as suas interpretações, para ficar mais evidente, certo? Dentre os comentários iniciais interessantes, Friedkin destaca que o realizador gostava de trabalhar com a mesma equipe em suas produções. Isso permitia o senso de coletividade diante de pessoas que sabiam exatamente o que ele queria enquanto composição narrativa, algo que o ajudou na criação de uma estética específica no decorrer de sua extensa e primorosa cinematografia.
Nesta edição comentada de Um Corpo Que Cai, William Friedkin destaca a importância da atmosfera criada na abertura do filme, apresentando-a como a base e a premissa do abismo que permeia toda a narrativa. A obra de Alfred Hitchcock é conduzida não apenas por sua trama intrigante, mas também pelo caráter emocional que ela imprime em seus personagens. O protagonista, Scottie Ferguson carrega consigo o fardo de uma culpa insuportável: a morte de um policial que tentou salvá-lo, refletindo a angústia e a vulnerabilidade humana. Este elemento de culpa e a luta constante do personagem com seus traumas pessoais estabelecem um pano de fundo denso para a exploração de obsessões e fantasias. A experiência de Scottie, contada sob a perspectiva de um homem emocionalmente perturbado, se transforma em uma jornada alucinatória que ecoa as angústias da psique humana, um espaço onde a realidade e a ilusão se entrelaçam de forma inquietante. Friedkin também traça um paralelo interessante entre Hitchcock e Edgar Allan Poe, observando que ambos criadores teceram histórias aparentemente inverossímeis, mas apresentadas dentro de uma lógica hipnótica.
Nesta abordagem fascinante, ele revela como Hitchcock, à sua maneira, suprimia suas obsessões através do cinema, utilizando a arte como um veículo para explorar os recantos mais sombrios da mente humana. Um Corpo Que Cai exemplifica essa ideia ao mostrar personagens aprisionados em suas obsessões. Desde a própria perseguição de Scottie por Judy Barton, transformada em Madeleine Elster, até o simbolismo da escada que liga o mundo iluminado da fantasia ao abismo do desespero, o filme nos leva a refletir sobre como as obsessões moldam nossas identidades e relações. Assim, Hitchcock emerge como um artesão meticuloso da imagem, destacando que, acima de qualquer lógica narrativa, a estética visual e emocional é o que realmente importa. Neste contexto, a personagem de Kim Novak, Judy/Madeleine, se apresenta como uma figura complexa e perturbadora, representando uma mulher cujas motivações são tão enigmáticas quanto as de Scottie. A relação entre os dois personagens é marcada pelo devotamento e pela idealização, num ciclo vicioso que transforma um amor quase platônico em algo profundamente doentio. Por meio da relação de Scottie com Judy, Hitchcock explora a ideia de que o amor pode se transformar em uma obsessão que consome a racionalidade e a moralidade. À medida que Scottie se aprofunda em sua busca pela mulher que ele acredita ser Madeleine, ele mergulha cada vez mais em um pesadelo dos quais não consegue escapar. A dicotomia entre sonho e pesadelo é, portanto, um eixo central no filme, sugerindo que as obsessões, por mais sedutoras que sejam, têm o potencial de se tornar prisões emocionais.
Hitchcock, em última análise, se concentra não apenas nas consequências lógicas de suas histórias, mas também no impacto visual e emocional que elas provocam. A produção é um testamento da habilidade do diretor em capturar a fragilidade da mente humana e a estética que a rodeia. A falta de uma explicação lógica e a aversão ao “happy end” convencional convidam o espectador a mergulhar em um universo onírico, onde tudo se desmorona em um abismo de desespero e obsessão. A escolha de elementos cinematográficos, como a iluminação expressiva e a trilha sonora inquietante, contribui significativamente para criar essa atmosfera surreal, onde os limites entre a realidade e o devaneio se tornam indistintos. Dessa maneira, Hitchcock reafirma a ideia de que, muitas vezes, a beleza do cinema reside na capacidade de evocar emoções complexas e reflexões profundas, mesmo que a história em si grite por uma lógica mais ordenada. A grandeza de Um Corpo Que Cai não está apenas nas suas técnicas inovadoras de cinema, mas principalmente em sua habilidade de abordar temas universais: amor, perda, obsessão e a busca incessante pelo inatingível. Visualmente deslumbrante, o filme é demasiadamente extenso para contar uma história que poderia suprimir algumas passagens para se tornar um pouco mais direta dentro de toda sua subjetividade. Mas, convenhamos, é um clássico incontestável por sua ousadia e apuro no tratamento de tantas reviravoltas. Assistir tal edição comentada, para cinéfilos, é uma valiosa aula de linguagem cinematográfica. Faça o investimento, caro leitor, e observará o quanto aprenderá diante desta iniciativa.
Um Corpo que Cai (Vertigo) – EUA, 1958
Direção: Alfred Hitchcock
Roteiro: Alec Coppel, Samuel A. Taylor (baseado na obra de Boileau-Narcejac, com contribuição de Maxwell Anderson)
Elenco: James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes, Tom Helmore, Henry Jones, Raymond Bailey, Ellen Corby, Konstantin Shayne, Lee Patrick
Duração: 128 min.